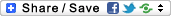A experiência Parlamentar no Brasil entre os anos 60 e 64
A experiência Parlamentar no Brasil entre os anos 60 e 64.
Dr. Nelson Eduardo Medeiros Leal - Mestrando em Direito das Relações Internacionais pela Universidad de la Empresa - UY.
Dra. Paula Naves Brigagão – Mestranda em Direito das Relações Internacionais pela Universidad de la Empresa - UY.
Sumário:
(1.0) Intróito;1.1) Características peculiares ao sistema de governo Parlamentarismo; 1.2) Contexto histórico do Parlamentarismo Brasileiro da década de 1960, no bojo da Constituição Federal de 1946; 1.3) Críticas ao plebiscito que instituiu o parlamentarismo no Brasil, em 1961; (1.4) Traços marcantes que diferenciam o Sistema Presidencialista do Sistema Parlamentarista; 1.5) Tendo em vista que o parlamentarismo brasileiro foi abolido em 1963 (pela Emenda Constitucional seis) poderá o mesmo regressar em 2008 em nossas fronteiras; 1.6) Resquícios do Parlamentarismo de 1961 na Constituição da República de 1988; 1.7) Bibliografia.
(1.0) Intróito.
Antes mesmo de adentrar no estudo minucioso do parlamentarismo mister se faz necessário precisarmos o seu conceito para melhor delinear o contexto que ele topograficamente se encontra no cenário jurídico.
Muitas vezes faz-se necessária a definição etimológica de uma determinada palavra para a sua correta compreensão. Assim, para que possamos compreender a razão do insucesso parlamentar que regeu o Brasil nos idos de 1960 a 1964, mister se faz a definição, primeiro, da palavra parlamentarismo.
Preconiza o lexicógrafo Aurélio:
Parlamentarismo: “Regime político em que o Gabinete, constituído pelos Ministros de Estado, é responsável perante o parlamento, que através dele governa a nação”. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 3ª edição, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 407).
Na clássica lição de Georges Burdeau, o parlamentarismo é o regime que se caracteriza pelas relações entre “dois poderes e três órgãos”, isto é, entre os Poderes Legislativos e Executivos e entre o Chefe de Estado (Presidente da República ou Monarca), Chefe do Governo (Presidente do Conselho de Ministros ou Primeiro-Ministro) e o Parlamento. Terminadas as lutas provinciais, a Monarquia brasileira caminhava para a estabilização. Em 1847, um decreto criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, indicado pessoalmente pelo Imperador. Muitos historiadores consideram que aí se inaugurou o sistema parlamentarista no Brasil. No parlamentarismo, regime constitucional de Repúblicas ou Monarquias, o Poder Executivo é exercido pelo Primeiro- Ministro, que é quem governa com o apoio do Parlamento, da Câmara. Assim, quando o Parlamento retira seu voto de confiança, o Gabinete de Ministros automaticamente apresenta sua renúncia. O poder maior é, portanto, do Parlamento, do qual depende a permanência ou não no Governo do Primeiro-Ministro.
O sistema parlamentarista implantado no Brasil, durante o Governo pessoal de D.Pedro II, inspirou-se no modelo inglês. No entanto, o modelo brasileiro era a inversão do inglês, ficando por isso conhecido como Parlamentarismo às avessas, porque o Poder Legislativo, não nomeava o Executivo, mas, sim, subordinava-se a ele. Na Inglaterra realizavam-se primeiramente as eleições para a Câmara. O partido que possuísse maioria escolhia o Primeiro-Ministro, que formava o gabinete de ministros, passando a exercer o Poder Executivo.
No Brasil, ao contrário, era o Poder Moderador, exercido por D. Pedro II, que escolhia o Presidente do Conselho de Ministros.
Por sua vez, o Primeiro - Ministro indicava os demais ministros para formar o Ministério, que deveria ser submetido à aprovação da Câmara. Em caso de discordância entre o Ministério e a Câmara, cabia ao Imperador decidir se demitia o Ministério ou dissolvia a Câmara. Com base no Poder Moderador podia, após ouvir o Conselho de Estado, dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Da mesma maneira poderia demitir o Primeiro - Ministro e todos os outros Ministros. Como nas eleições da época a influência do governo era muito grande, os candidatos da situação sempre ganhavam as Eleições e o Imperador conseguia eleger uma Câmara que se harmonizava com o Ministério por ele escolhido.
Assim, no Parlamentarismo brasileiro o Poder Executivo permaneceu nas mãos do Imperador, que o exercia com seus Ministros, levando à centralização político-administrativa do Império e ao fortalecimento da autoridade do Governo do Estado. Os Partidos, liberal e conservador, passaram a disputar o Ministério, alternando-se no Governo. O rodízio no poder entre liberais e conservadores revelava a identidade que havia entre eles. Seus interesses não eram diferentes entre si nem com relação aos de D. Pedro II. Eram membros da mesma camada social - a dos grandes proprietários de escravos e de terras -, o que explica a identificação de ambos com os projetos centralizadores do Imperador.
Durante cinqüenta anos, 36 gabinetes sucederam-se no poder. Os conservadores foram os que mais tempo dominaram o Governo do Império: 29 anos e dois meses. Os liberais, malgrado seus 21 gabinetes, governaram apenas 19 anos e cinco meses.
(1.1) Características peculiares ao Sistema de Governo Parlamentarista.
O tema em comento está atrelado a sistema de governo sendo uma (e não a única) de suas técnicas de disciplina entre as funções Executivas e Legislativas. No Parlamentarismo o Poder Executivo é dual. As chefias são separadas. O Presidente ou Monarca é o chefe do Estado. O chefe de governo é representado pelo Primeiro Ministro. A título ilustrativo citamos alguns dados Inerentes ao Direito Comparado; quais sejam: Na Espanha não conhecemos formalmente a figura do Primeiro Ministro, mas de seu equivalente; vale dizer: o Presidente do Conselho de Ministros desempenha a chefia governamental. O mesmo ocorre com as figuras do Chanceler (na Alemanha) e do Premier (em Israel).
Todos atuando como chefes de governo, ainda que não dispusesse da nomenclatura de Primeiro Ministro.
Elencamos aqui as suas características fundamentais. São duas as suas principais características: Colaboração de poderes e Responsabilidade Política.
Na colaboração de poderes o Poder Legislativo apresenta superioridade hierárquica frente ao Poder Executivo. O fundamento para tal é exatamente existir a chamada responsabilidade política. Esta é a tradição britânica. Na responsabilidade política a conservação do governo está atrelada a confiança do parlamento.
Em Direito Comparado existem dois grandes mecanismos que auferem dita confiança. São eles o voto de censura e o apelo à nação. No voto de censura caso o Parlamento perca a confiança no Governo o próprio Parlamento vota e aprova o voto de censura.
Sendo aprovado o voto de censura o Presidente terá duas opções: A primeira delas é não opor resistência ou ficar inerte. Se assim o fizer o governo se desmorona. O voto será sempre do Primeiro Ministro, mas como a responsabilidade é solidária, todo gabinete cai. Em havendo resistência o Governo se valerá do mecanismo conhecido como apelo à nação. Este é feito pelo Primeiro Ministro contra o voto de censura. Assim, o chefe de Estado terá que desconstituir o parlamento e convocar eleições gerais. E do resultado dessas eleições gerais o gabinete será mantido ou não. O povo será o detentor da decisão sobre se a razão está no Parlamento ou no Gabinete. Caso entenda que esteja no Parlamento, por óbvio, vota nos partidos de oposição e, por conseqüência, levará a queda governista. Caso entenda que assiste razão ao Governo irá votar maciçamente em partidos de
Situação, o que levará a mantença do Governo, muito embora com outra composição.
(2.0) Contexto histórico do Parlamentarismo Brasileiro da década de 1960, no bojo da Constituição Federal de 1946.
O retrato mundial da Constituição Federal de 1946 é marcado com o término da II Guerra Mundial logrando êxito os países democratas.
No Brasil, levando-se em consideração o conceito mundial, no início de 1945, através da Lei Constitucional n. 9, introduziu-se as emendas constitucionais, dando maior relevo à emenda que determinou um prazo para a realização de eleições, qual seria dois de dezembro do mesmo ano.
Paralelamente, neste mesmo ano, ocorre à deposição de Getúlio Vargas e a Lei Complementar n. 13, confere ao Parlamentarismo Brasileiro a natureza constituinte, com vistas à realização de uma nova Constituição, ao invés da busca contínua de conceitos anteriores contidos na Máxima Lei de 1937.
No escólio de Alessandro Dissimoni:
“Apesar de grande parte dos doutrinadores criticarem esta Constituição, pois esta não teria atentado para as necessidades da época, há de considerar que seu texto encontra-se de forma harmônica e concisa, rompendo qualquer laço que houvesse com o Estado Novo”. (Resumo Jurídico de Direito Constitucional, 1ª edição, São Paulo: Quartier Latim, 2202, p. 60).
Ponto de destaque da Constituição de 1946 é a sua especificação conceitual, bem como a sua abrangência na separação das três funções (Executiva, Legislativa e Judiciária) pelo poder, que assim como a soberania é uno e indivisível. Trata-se do conhecido fenômeno dos pesos e contrapesos onde uma função poderá controlar a outra e vice e versa, para o melhor resguardo da democracia.
A título ilustrativo citamos a seguinte passagem que fora condutora do voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal Célio Borja que se inspirou nas lições de Duguit: “O espírito aproxima espontaneamente essa teoria de separação de poderes, também conhecida como teoria da trindade política com a teoria teleológica da trindade divina. A mesma concepção e a mesma maneira de racionar são à base de uma e de outra. A divindade é una e indivisível. Formam seus atributos outras pessoas distintas, igualmente divinas.
Mas a divindade continua una e indivisível, apesar da existência de três pessoas distintas. Da mesma maneira a soberania é una e indivisível, seus atributos formam três pessoas distintas igualmente soberanas. “Não obstante, há uma só soberania, una e indivisível, apesar da existência de três poderes soberanos”. ( STF, pleno, maioria, RTJ 126/29, Relator para o acórdão Ministro Célio Borja).
Na época houve também grande prestígio aos princípios democráticos, ao instituto da separação dos poderes, ao federalismo e ao municipalismo.
Houve, pois, acentuada ampliação aos Direitos e garantias individuais (Base Legal: arts. 141 a 144, CF de 1946). Ressalte-se a acumulação de funções desempenhadas pelo Vice-Presidente da República. O vice-presidente é também presidente do Senado. (Base legal: art. 61 da CF de 1946). Dado histórico de suma importância à época foi à supressão do Decreto- Lei.
Anote-se que com a renúncia do Presidente Jânio Quadros a presidência ganha novo sucessor; qual seja: João Goulart. Jânio Quadros que tomou posse em 31 de janeiro de 1961 era um político polêmico, foi Prefeito da capital paulista em 1953 e Governador de São Paulo em 1954.
Foi candidato a Presidente com o vice Milton Campos, pela UDN, que tinha interesse em descaracterizar o sistema político. Jânio em 1960 apoiou a Revolução Cubana tendo visitado Cuba a convite de Fidel Castro. A aliança dominante optou pela candidatura do General Henrique Teixeira Lott, que perdeu as eleições, mas tinha como seu Vice João Goulart que venceu a eleição para Vice-Presidente. Jânio herdou de Juscelino uma dívida externa de dois bilhões de dólares, por isto no início de seu Governo adotou severas medidas de restrições ao crédito, controle inflacionário, liberação do câmbio e congelamento salarial, num monetarismo austero que lhe valeu o aval do FMI para empréstimos externos. Esta política de austeridade lhe angariou antipatias mesmo entre seus correligionários.
Na formação de seu Ministério tentou contemplar todos os partidos que o apoiavam, mas eles eram muitos e bastante diversificados, estando unidos apenas pelo anti-getulismo, nada mais. Governava sem base política, o PTB/PSD dominava o Congresso e a UDN que o havia apoiado na eleição passou para a oposição. O país vivia em crise e estava muito endividado.
Como medida saneadora demitiu cerca de 10.000 funcionários nomeados depois de 10 de setembro de 1960 e declarou guerra ao contrabando determinando a demissão de todos os fiscais da alfândega.
No seu Governo ficaram famosos os "bilhetinhos" que ele mandava diariamente para funcionários dos diversos escalões. As pequenas notas funcionavam como decretos oficiosos, transformando em "lei" diversas decisões, algumas delas legendárias como: regulamento do tamanho dos maiôs das misses; proibição de biquínis nas praias; proibição de corrida de cavalos em dias úteis; proibição de rinhas de galos e até a proibição do uso de lança-perfume.
O Governo de João Goulart foi marcado do princípio ao fim pelo estigma do Golpe de Estado. Se em agosto de 1961, o golpe não foi consolidado, menos de três anos depois da posse de João Goulart, os militares imporiam, juntamente com uma mobilização política das camadas dominantes e da classe média, uma nova ordem político-institucional ao Brasil, depondo João Goulart. João Goulart era vice de Jânio Quadros que depois de eleito governou menos de sete meses e renunciou à Presidência e Goulart viu sua posse ameaçada por um veto militar com o apoio da UDN e setores conservadores, no entanto as massas populares saíram às ruas para defender sua posse. A elas se associaram políticos democráticos e militares nacionalistas, impedindo assim um golpe contra ele.
O General Teixeira Lott, como era seu hábito, adotou uma postura legalista, de forma diferente de outros militares como: Odylio Denis Ministro da Guerra; o Almirante Sílvio Heck; o Brigadeiro Grüm Gabriel Moss e os Generais Floriano Peixoto Keller e Orlando Geisel; todos a favor do impedimento de João Goulart. O General Lott lançou um manifesto a favor da posse de Jango e por esta razão foi preso pelo Ministro da Guerra.
O Congresso também era favorável à posse do Vice, que estava na China. O cunhado de Jango, Leonel Brizola, Governador do Rio Grande do Sul liderou o movimento para a posse de Jango, apoiado pelo Comandante do III Exército, General José Machado Lopes. O movimento foi lançado pelos meios de comunicação formando a Cadeia da Legalidade.
A vida política de João Goulart vinha do Rio Grande do Sul onde foi Deputado em 1950, pelo PTB e foi escolhido em 1953, por Getúlio para o cargo de Ministro do trabalho, neste período era acusado de insuflar greves e estimular a luta de classes, por isto foi demitido. Era um rico proprietário de terras, mas pregava um Capitalismo mais humanizado e patriótico. Foi Vice-Presidente da República de Juscelino Kubitscheck e depois de Jânio Quadros.
Durante o período Parlamentarista, que duraram dezesseis meses, o Brasil teve três Conselhos de Ministros.
O primeiro presidido por Tancredo Neves, membro de destaque do PSD mineiro, que se denominou Gabinete de "União “Nacional”, formado de quatro ministros do PSD, dois da UDN e um do PTB. Nele a pasta da Fazenda ficou com um banqueiro, Walter Moreira Salles, com a intenção de obter o apoio do FMI e das autoridades financeiras norte- Americanas.
Embora conservador tomou medidas apoiadas pelos setores progressistas e nacionalistas. Neste período, na OEA, o Brasil se opôs a qualquer sansão contra o regime de Fidel Castro, mas aprovou a declaração de
incompatibilidade entre um regime marxista-leninista e os princípios democráticos do Sistema interamericano.Jango queria mudar a Constituição de 1946, no seu Artigo 141, Parágrafo 16 que condicionava as desapropriações de terra à "prévia e justa indenização em dinheiro".
Mas esta iniciativa colocou contra ele: os proprietários rurais, setores da Igreja, Congressistas liberais e conservadores, a Imprensa e ainda outros setores.
Devido a este fato o Gabinete de Tancredo perdeu o apoio de Goulart. Goulart se opôs à forma moderada pela qual achava que o Gabinete estava encaminhado o debate sobre a Reforma Agrária de autoria do Ministro Armando Monteiro do PSD, que era usineiro de Pernambuco. Em julho de 1962 os membros do Gabinete pediu demissão, sem ter enviado qualquer proposta de Reforma Agrária ao Congresso.
Para o segundo Gabinete, Goulart indicou o nome de San Tiago Dantas, mas PSD e UDN uniram-se para rejeitar seu nome, porque não aceitavam o reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética, de sua iniciativa e nem sua posição contra sanções da OEA a Cuba socialista.
Em 23 de janeiro de 1963, João Goulart reassumia a Presidência com os plenos poderes da Carta de 1946, para tentar superar a crise financeira, aliviar as tensões sociais e por fim às crises políticas que desgastavam sua administração.
O Executivo apresentou um plano de governo que denominou: Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico-Social – 1963-1965, que foi elaborado pelo economista e Ministro do Planejamento Celso Furtado, com a colaboração do Ministro da Fazenda San Tiago Dantas. O lema do Plano era: "Combater a inflação com desenvolvimento". Este plano ficou conhecido popularmente como "Reformas de Base".
Institui-se o Parlamentarismo, coroado pela Emenda Constitucional número quatro, de dois de setembro de mil novecentos e sessenta e um, o qual, porém, é abolido após um “Plebiscito” (Emenda Constitucional n. 6, de 23/01/1963), voltando a vigorar o Presidencialismo.
(3.0) Críticas ao plebiscito que instituiu o Parlamentarismo
No Brasil, em 1961. Anote-se que a Emenda Constitucional número quatro, de dois de setembro de mil novecentos e sessenta e um, à Constituição de 1946, que tipificou em seu artigo 25 a chance de lei complementar “... dispor sobre a realização de plebiscito que decida sobre a manutenção do sistema parlamentar ou volta ao sistema presidencial, devendo, em tal hipótese, fazer-se a consulta Plebiscitária nove meses antes do termo do atual período “Presidencial”.
Estabeleceu-se, dessa forma, a realização do chamado “Plebiscito” para o ano de 1965, com o objetivo de se averiguar sobre a mantença do sistema parlamentar ou retorno ao sistema presidencial.
O doutrinador Pedro Lenza ensina-nos que: “No fundo nos parece que se tratava, em essência, de referendo, já que, depois do ato tomado (a instituição do Parlamentarismo no Brasil), proceder-se-ia à consulta popular para se confirmar ou afastar a decisão já tomada. (Pedro Lenza – Direito Constitucional Esquematizado, 9ª edição, editora método, 2005, p.34).
Para abrilhantarmos nosso trabalho vamos diferençar os institutos do plebiscito do referendum. A pedra de toque é o momento da consulta; vale dizer, embora essa seja uma diferença não é considerada a única.
Plebiscito é uma consulta formulada ao povo, efetivando-se no que tange àqueles que detenham capacidade eleitoral ativa, para que deliberem sobre matéria de notável relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O Congresso Nacional é o órgão detentor da competência exclusiva para convocar o plebiscito e assim o faz pelo instrumento do decreto legislativo. Importante destacarmos que a consulta que é formulado ao povo é prévia, isto é, o plebiscito é convocado com anterioridade, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou desaprovar o que lhe tenha sido submetido.
Referendum é uma consulta formulada ao povo, efetivando-se no que toca àqueles que detenham capacidade eleitoral ativa, no intuito de que deliberem sobre matéria de notável relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
O Congresso Nacional é o órgão detentor da competência Exclusiva para autorizar o referendum e assim o faz pelo instrumento do decreto legislativo. Aqui, a consulta que é formulada ao povo se dá em um momento posterior, vale dizer, o referendum é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, competindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.
Essa situação foi reconhecida pela Lei Complementar n. 2, de 16.09.1962, que, antecipando a consulta popular, em seu artigo 2º, estabeleceu que “a Emenda Constitucional n. 4, de dois de setembro de 1961 será submetido a Referendum popular no dia 6 “de janeiro de 1963”.
Reproduzindo o texto legal em epígrafe extraímos a seguinte passagem digna de nota: “... proclamado pelo Superior Tribunal Eleitoral o resultado, o Congresso organizará, dentro do prazo de 90 dias, o sistema de Governo na base da opção “decorrente da consulta” (ou seja, a consulta vincula a decisão a ser tomada). E em seguida se estabeleceu: “terminado esse prazo, se não estiver promulgada a emenda revisora do parlamentarismo ou instituidora do presidencialismo, continuará em vigor a Emenda Constitucional n. 4, de dois de setembro de 1961, ou voltará a vigorar em sua plenitude a Constituição Federal de 1946, conforme o “Resultado da consulta popular”.
Destarte, data vênia a entendimento diverso, pugnou, acompanhados de PEDRO LENZA, no sentido de que o primeiro referendo que fora realizado no Brasil ocorreu em seis de janeiro de mil novecentos e sessenta e três, através do qual se optou pelo retorno ao sistema presidencial.
Com o passar dos tempos inaugurou-se no Brasil o seu primeiro plebiscito, com data inicial prevista para 07 de setembro de 1993, nos termos do artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fora antecipada para 21 de abril de 1993 pela Emenda Constitucional n.2/1992. O resultado todos já conhecemos, qual seja a manutenção da república constitucional e do sistema presidencialista de governo.
(4.0) Traços marcantes que diferenciam o Sistema Presidencialista do Sistema Parlamentarista.
Distingue-se o presidencialismo do parlamentarismo, o regime de governo em que há a supremacia do ramo legislativo, do qual decorre o governo, no sentido estrito, e até mesmo a autoridade dos tribunais.
Ensina-nos Pedro Lenza:
“No sistema presidencialista, as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo encontram-se nas mãos de uma única pessoa, qual seja, o Presidente da República. Já no parlamentarismo, a função de Chefe de Estado é exercida pelo Presidente da República ou Monarca, enquanto a função de Chefe De Governo, pelo Primeiro – Ministro, chefiando o gabinete.
Vejamos algumas outras características:
O presidencialismo foi criação norte-america; eleição do Presidente da República pelo povo, para mandato determinado; ampla liberdade para escolher os Ministros de Estado, que o auxiliam e podem ser demitidos ad nutum, a qualquer tempo.
O parlamentarismo é produto de longa evolução histórica; adquiriu os contornos atuais no final do século XIX, recebendo forte influência inglesa; o Primeiro – Ministro, que é quem exerce, de fato, a função de chefe de governo, é apontado pelo Chefe de Estado, só se tornando Primeiro – Ministro com a aprovação do Parlamento; o Primeiro- Ministro, também não exerce mandato por prazo determinado, pois poderá ocorrer a queda de governo por dois motivos, a saber: se perder a maioria parlamentar pelo partido que pertence, ou através do voto de desconfiança; possibilidade de dissolução do parlamento, declarando-se extintos os mandatos “Pelo Chefe de Estado e convocando-se novas eleições.”
Em síntese, no presidencialismo resta mais retratada a separação de funções estatais pelo poder soberano, ao fundamento de que no parlamentarismo ocorre o deslocamento de uma parcela da atividade executiva para o legislativo. Nesse particular aspecto fortalece-se a figura do Parlamento que, além da atribuição de inovar a ordem jurídica em nível imediatamente
Infraconstitucional, passa a desempenhar, por conseguinte, função executiva.
(5.0) Tendo em vista que o parlamentarismo brasileiro foi abolido em 1963 (pela Emenda Constitucional seis) poderá o mesmo regressar em 2008 em nossas fronteiras?
Poder-se-ia discutir se, através de nova emenda, seria possível instituir novo plebiscito para a escolha de regime, ou seria possível, através de Emenda instituir-se novamente o Parlamentarismo. Eis a questão.
Ninguém sustenta que através de uma emenda constitucional simples seria possível implantar parlamentarismo ou a monarquia, mas a assertiva sustentada por alguns constitucionalistas brasileiros é a de que se poderia através de uma Emenda se convocar um plebiscito para que se pudesse programar essa mudança.
E, aqui, se faz importante diferençar o titular do poder do Agente do poder. O TITULAR do poder é o povo. O AGENTE do Poder é o governante. Quem exerce o poder constituinte o faz em nome alheio, do Povo. Não poderia o agente se voltar contra a vontade do titular.
Assim sendo, não seria possível uma emenda para tal senhor, uma vez que o povo, através do plebiscito ocorrido, já optou pelo Presidencialismo.O que pode vir a surgir é a indagação sobre a possibilidade de uma nova emenda constitucional para instituir um novo Plebiscito. No ordenamento jurídico brasileiro a questão não é pacífica. Entendemos que o povo do passado não pode ser considerado superior ao povo do presente. Assim, se em uma consulta já realizada, o povo decidiu pelo presidencialismo isso, por si só, não implica na impossibilidade do povo do futuro optar pelo Parlamentarismo.
Registre-se que a posição acima por nós esposada não encontra inteira guarida entre nossos doutrinadores. Por todos, o renomado Fábio Konder Comparato, a sustentar posição diametralmente oposta no sentido de que não seria possível uma nova emenda para instituir um novo plebiscito, tendo em vista que todo processo de mudança da Constituição implica em cláusula pétrea (núcleo imodificável da Constituição da República. Base Legal: art. 60 da CRFB/88). O conceito de cláusula pétrea diz respeito, entre outras coisas, `a estrutura básica do Estado. Uma mudança de sistema implicaria em alterar toda a Constituição. Por conseqüência, com o plebiscito já realizado o presidencialismo tornou-se uma cláusula pétrea implícita. (Fábio Konder Comparato (Revista dos Tribunais, n. 582, p. 266).
As limitações materiais implícitas ou tácitas não constam expressamente do texto da Constituição Federal de 1988. Se não constam do texto da Constituição, significa dizer que são resultado de criação doutrinária, obra dos estudiosos do Direito. A idéia desenvolvida pela doutrina foi mais ou menos a seguinte:
Além daquelas matérias apontadas expressamente na Constituição como insuscetíveis de abolição, há outras que, embora não tenha havido uma vedação expressa nesse sentido, também não poderão ser suprimidas por obra do poder constituinte derivadas, sob pena de fraude completa à obra do poder constituinte originária. Segundo a doutrina dominante, essas limitações implícitas seriam as seguintes:
1ª) A titularidade do poder constituinte originário;
Sabe-se que a titularidade do poder constituinte pertence ao povo, vale dizer, somente o povo tem o poder de decidir o momento e como elaborar uma nova Constituição. Então, seria flagrantemente inconstitucional a aprovação, pelo Congresso Nacional, de uma emenda à Constituição que retirasse essa Soberania do povo e outorgasse a um órgão constituído o poder de elaborar a nova Constituição brasileira. Imagine-se uma emenda constitucional outorgando essa competência ao Presidente da República, ato que seria flagrantemente inconstitucional por afrontar uma limitação material implícita ou tácita.
2ª) A titularidade do poder constituinte derivado;
Pelas mesmas razões apontadas acima, seria flagrantemente inconstitucional uma emenda à Constituição em que o Congresso Nacional repassasse a sua competência para modificar a Constituição a outro órgão do Estado (ao Presidente da República, por exemplo). Ora, a competência para modificar a Constituição Federal de 1988 foi fixada pelo poder constituinte originário (afinal, a Constituição é obra dele, só ele pode fixar a competência para sua modificação e qualquer tentativa de alterar essa competência será inválida, por esbarrar numa limitação material implícita ou tácita.
3ª) O próprio procedimento de revisão constitucional (ADCT, Art. 3º e de reforma constitucional CF, art. 60).
Sem dúvida, essa é a limitação material implícita que mais interessa-nos para o fim de concurso público, por ser reiteradamente cobrada em provas e mais provas.
Pense assim: (1) em 1988, ao elaborar a Constituição Federal e prever o procedimento para sua modificação, o legislador constituinte originária impôs certas limitações ao poder constituinte derivado na execução dessa tarefa, dessa tarefa de modificar o texto constitucional, prescrevendo dois procedimentos para tal modificação – um de revisão (ADCT, art. 3º () e outro de reforma (CF, art. 60); (2) esses procedimentos contêm certas limitações que deverão, obrigatoriamente, ser observadas pelo poder constituinte derivado, sob pena de invalidade da modificação efetivada; (3) enfim, o legislador constituinte originário chegou e prescreveu o seguinte ao poder constituinte derivado: “olha você poderá modificar a minha obra, mas deverá, necessariamente, observar os procedimentos e limitações impostos pelos artigos 60 da CF e 3º do ADCT; não os desobedeça, senão a modificação não “será válida”.
Assim sendo, se o poder constituinte derivado pudesse, ele próprio, afastar as limitações que lhe foram impostas pelo poder constituinte originário, o valor dessas limitações seria zero, não adiantariam nada, absolutamente nada! Imagine: se “A” impõe limitações a “B”, mas se “B” pode, por ato próprio, afastar essas limitações, que força terá tais limitações? Mais uma: se o pai impõe limitações ao filho, e se o próprio filho pode afastar, por sua conta, essas limitações, que força terá tais restrições?Absolutamente nenhuma! Ele simplesmente afastará tais limitações e estará livre, para fazer o que quiser!
Esta, portanto, a razão do surgimento dessa limitação material implícita: se o poder constituinte derivado pudesse, por ato próprio, modificar as regras para sua atuação no tocante à modificação da Constituição estaria ele fraudando a obra do poder constituinte originária; teríamos, nesse caso, a criatura (poder constituinte derivado) modificando a obra do criador (poder constituinte originário); não pode o destinatário das limitações afastá-las, por ato próprio, sob pena de absoluta desvalia destas.
Dessa forma, os procedimentos de revisão (ADCT, art. 3º e de reforma (CF, art. 60) não poderão ser objeto de modificações substanciais por meio de emenda à Constituição, que afastem, que prejudiquem que alterem substancialmente as regras ali estabelecidas pelo poder constituinte originário, conforme dito.
Antes, enquanto tiver vida à vigente Constituição, o seu texto somente poderá ser modificado de acordo com os procedimentos e requisitos estabelecidos no art. 60 da Constituição Federal (haja vista que o procedimento de revisão já se esgotou); qualquer tentativa de prejudicá-lo, de modificá-lo substancialmente, ou de criar outro procedimento qualquer, será flagrantemente inconstitucional, por esbarrar numa limitação material implícita.
(6.0) Resquícios do Parlamentarismo de 1961 na Constituição da
República de 1988.
Cabe ressaltar que embora o nosso sistema adotado na atualidade seja o sistema de governo presidencialismo esse não reina de forma absoluta, vale dizer, o nosso sistema presidencialista é marcado por influências do parlamentarismo. A título de exemplo citou a edição pelo Presidente da República do instituto por todos conhecidos da medida provisória (Base Legal: Art. 62 da CRFB/88). Trata-se de uma função atípica desempenhada pelo Presidente da República tendo em vista que a sua função precípua é a de administrar a coisa pública. No entanto, ao editar medidas provisórias, o Presidente da República está, por via oblíqua legislando e, por conseguinte, haverá preponderância do Legislativo sobre o Executivo, preponderância esta exercida pelo próprio Chefe do Poder Executivo.
(7.0) Conclusões Finais.
O regime presidencialista de governo que adotamos na República Federativa do Brasil, com o breve hiato do Parlamentarismo, entre setembro de 1961 e janeiro de 1963, acarretou ao que a doutrina convencionou chamar de hipertrofia do Poder Executivo, a indicar a sua superioridade em face dos demais Poderes, principalmente do Poder Legislativo.
O choque do parlamento e seu insucesso em seara brasileira se deu por ser o mesmo incompatível com a nossa forma federativa de Estado. A história assim no explica, hora intermédio do doutrinador Nagib Slaibi Filho (Direito Constitucional, Editora Forense, 2004, p. 682:
O tema da “hipertrofia do Poder Executivo” foi muito debatido durante o regime militar (1964 – 1985), época de exceção na vida democrática, em face dos instrumentos jurídicos (Como Atos Institucionais) que permitiam o controle sobre as forças políticas. A abolição do parlamentarismo vem antes disso, em 1963 foi um grito do povo pelo que acreditava ser liberdade. Sua volta, para nós é possível, em respeito a essa mesma liberdade, pois o Povo de ontem não é mais ou menos soberano que o Povo de hoje.
Diversamente da História Constitucional do Reino Unido e da França, países de Estado unitário ou simples, a História do Brasil (fato esse que não justifica, mas explica a abolição do Parlamentarismo) não contou com grandes conflitos entre o Governo e o Parlamento. Talvez por nossa característica Federativa, devida ao imenso território em que se encontra dispersa a população, a grande crise política da História brasileira não se deu no sistema de governo (se presidencialista ou parlamentarista) e sim nos conflitos entre o Governo Central e as oligarquias estaduais, estas vencedoras em não poucos momentos como na queda da Monarquia, em 1889, quando menos se pretendia implantar a República e, muito mais, a Federação que na República Velha permitiu ampla liberdade de atuação às antigas províncias.
Essa a grande preocupação Histórica e atual do Brasil, qual seja: sua extensão territorial.
Em síntese: quanto maior a extensão territorial, maior a dificuldade de governabilidade. O conflito maior não está na governabilidade (Parlamentarismo X Presidencialismo) e sim na falta de contenção da miséria que assola o país. Qualquer dos sistemas adotados serão eficazes se houver democracia e preocupação social.
Bibliografia
ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal
Serrano. Curso de Direito Constitucional – Ed. Saraiva.
BARBOSA SOBRINHO, Osório Silva. Constituição Federal
Vista pelo STF. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional.
São Paulo: Saraiva.
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa
Das regras do jogo. São Paulo: Paz e Terra Política.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. Coimbra:
Almedina.
CRETELLA JÚNIOR, José – Os “Writs” na Constituição de
1988 – Ed. Forense Universitária.
CUNHA, Sérgio Sérvulo da – Fundamentos de Direitos
Constitucional – Ed. Saraiva
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves - Curso de Direito
Constitucional - Ed. Saraiva.
- Se logue para poder enviar comentários
- 3411 leituras
-