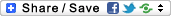Direitos Reais de Usufruto, Uso e Habitação
RESUMO: O direito das coisas é o instituto do direito civil do qual trata das relações jurídicas equivalentes aos bens corpóreos suscetíveis de apropriação pelo homem. Dentro do direito das coisas é que vimos os direitos reais. O direito real é aquele que influi no poder jurídico, direto e imediato, do sujeito titular sobre a coisa, com exclusividade e sobre todos. O presente artigo apresenta os três tipos de direitos reais de gozo ou fruição que o antigo Código Civil de 1916 nos traz: usus fructus, usus e habitatio. Ademais, o mesmo apresenta suas evoluções históricas, seus conceitos distintos, suas classificações e características, bem como seus modos de constituição e extinção. Uma breve analise sobre as mudanças ocorridas dentre os dois códigos civis brasileiros também é apresentada.
Palavras-Chave: Usufruto; Uso; Habitação; Direitos Reais; Código Civil.
ABSTRACT: The law of property is the institute of civil law, which comes to legal relationships equivalent to tangible property susceptible to appropriation by man. Inside The Right of things is that we saw the rights in rem. The real law is one that affects the juridical power, direct and immediate, the holder of the thing, and with exclusivity over all. This paper presents three types of rights in rem of enjoyment or fruition that the old Civil Code of 1916 brings us: usus fructus, and usus habitatio. Moreover, it presents its historical evolution, its distinct concepts, classifications and their characteristics as well as their modes of formation and extinction. A brief analysis on the changes among the two Brazilians civil codes is also presented.
Key Words: Usufruct; Use; Housing; Property Law, Civil Code.
SUMÁRIO: Introdução; 1. Direitos Reais; 2. Evolução Histórica das Instituições; 3. Mudanças Ocorridas na Transição do Código de 1916 Para o Código de 2002; 4. Usufruto; 5. Uso; 6. Habitação; 7. Ações Decorrentes do Usufruto, Uso e Habitação; Conclusão; Referências Bibliográficas;
INTRODUÇÃO
Usufruto e habitação são áreas das quais estão inseridas no Direito das Coisas, vistas sob um conceito clássico de Clóvis Beviláqua, diria que o direito das coisas é:[1]
“O complexo de normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem. Tais coisas são, ordinariamente, do mundo físico, porque sobre elas é que é possível exercer o poder de domínio”.
O tema em questão, além de estar dentro do direito das coisas, exerce um papel fundamental como direito real, ou seja, é aquele titular do qual exerce total poder, instantaneamente, sobre a coisa. Sendo assim, nas palavras de Lafayette Rodrigues Pereira, diríamos que o direito real é o que afeta a coisa direta e imediatamente, sob todos ou sob certos respeitos e segue em poder de quem quer que a detenha.[2]
Os direitos reais sob coisas alheias refere-se a propriedade onde estão contidos diversos elementos, como o usufruto, o uso e a habitação, por exemplo. Essas peças do direito real não necessitam estar exclusivamente nas mãos de seu proprietário, podendo assim estarem conferidos a um terceiro, devido ao fato do Direito os considerar como suscetíveis de se constituírem em objeto próprio.
Não há critérios precisos para distinguir os direitos reais dos pessoais, o que se tem a respeito seriam algumas descrições dos direitos reais, a fim de que se comparem e se diferenciem dos direitos pessoais. Sendo assim, a natureza jurídica desses direitos reais é de ordem publica. Quando ao seu modo de exercício, os direitos reais são caracterizados como a efetivação direta e imediata, sem a intervenção de quem quer que seja. Outras características relevantes são a coisa determinada; ser um fato positivo; que tende ao titular um gozo permanente, visto pela sua perpetuidade; a usucapião da qual é de exclusiva autoria dos direitos reais; e, por fim, o direito real só encontra um sujeito passivo no momento em que a coisa é violada.
Dentro desses direitos reais, o trabalho visa apresentar fundamentações acerca do usufruto, uso e habitação.
O usufruto é um direito de gozar da coisa alheia enquanto temporariamente destacado da propriedade, ou seja, é o direito que o sujeito tem de desfrutar temporariamente de um bem alheio, sem que ele tenha que ser o seu proprietário e sem que altere a sua substancia. O uso, por sua vez, é o direito que um sujeito tem de usar de uma coisa e dela retirar o que for de acordo com as suas necessidades e de sua família, sem dela retirar as vantagens. Difere do usufruto, uma vez que o usufrutuário retira das coisas todas as utilidades da coisa, ou seja, o sujeito goza da coisa alheia como se fosse o seu proprietário.
Já a habitação é um uso limitado, consistente no uso de um imóvel para a sua habitação e de sua família. É a faculdade que o sujeito tem de residir em um determinado local. O titular deste direito não pode fazer nada com a casa ou prédio alheio a não ser habita-lo com sua família.
Portanto, este trabalho estabelece relações conceituais e característicos, vistos sob um parâmetro doutrinário, bem como sua natureza e finalidades jurídicas e a sua evolução histórica, tendo um espaço reservado para o direito comparado entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002.
DIREITOS REAIS
Não é equivocado afirmar que, para classificar os bens em relação com o homem, existem duas formas distintas: ou eles são bens abundantes, ou seja, sem valoração econômica (ex.: água do mar, o ar, a luz solar, entre outros), ou são passiveis de apropriação (bens apropriáveis, ou seja, que possam transformar-se em propriedade). Todas as coisas uteis e raras podem ser objeto de propriedade, visto sob o interesse econômico que elas tem.
Os direitos reais, de forma simplificada, são as regras do campo patrimonial que trata da influência do homem em relação as coisas alheias. A propriedade é o principal objeto do direito real. As coisas publicas jamais serão apropriáveis. Os demais direitos reais são o usufruto, o uso, a habitação, a superfície, as servidões, o direito do promitente comprador, o penhor, a hipoteca e a anticrese, como dispõe o Art. 1225 do CC, em que limita o numero dos direitos reais, assim definidos:
Art. 1225: São direitos reais:
I – a propriedade;
II – a superfície;
III – as servidões;
IV – o usufruto;
V – o uso;
VI – a habitação;
VII – o direito do promitente comprador do imóvel;
VIII – o penhor;
IX – a hipoteca;
X – a anticrese.
A coisa alheia pode se tornar apropriável quando existe uma relação contratual derivada entre os sujeitos ou quando é apropriada pela captura, esta originaria, ou seja, é aquela ocupação em que não envolve sujeitos e nem uma relação contratual. Se diz relação contratual derivada devido ao fato da coisa já ter pertencido a outrem e a captura se diz originária justamente porque, em contrario da relação contratual, a coisa nunca teve dono.
As características dos direitos reais, vistas pela perspectiva da doutrina do Professor Arruda Alvim[3], se subdividem em partes. A primeira diz respeito à legalidade ou tipicidade, ou seja, os direitos reais só podem existir se antes estiverem previstos em lei; a segunda fala sobre a taxatividade, ou seja, a enumeração é taxativa, não admite ampliação pela simples vontade das partes; a terceira parte seria a publicidade, ou seja, necessitam de um registro para que existam; a quarta fala da eficácia erga omnes, os direitos reais se aplicam a todas as pessoas indistintamente; a quinta explica sobre a inerência ou aderência, em que o direito real adere à coisa em seu todo; e a sexta e ultima seria a sequela, em que se trata como consequência da característica anterior, a inerência/aderência nos direitos reais. Esta ultima fase acontece quando o titular do direito vai atrás da coisa, para busca-la aonde estiver.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS INSTITUIÇÕES
Os direitos reais são predominantes no direito das coisas e em seguida, se vê a propriedade como principal direito real assim estabelecido. Com o passar do tempo, a propriedade, da qual era exclusiva do direito privado, foi-se tornando parte do direito publico, conforme as normas desse direito virem a surgir.
Nunca se teve uma concepção concreta de propriedade e os direitos dela provenientes. Na antiguidade, a propriedade era coletiva, sendo a família, tribo ou clã os proprietários da terra. Tinham uma crença bastante elevada e, devido a esse fato, o homem aprendeu a apropriar-se da terra assegurando seu direito sobre a mesma. Em outras palavras, conquistava-se a propriedade de terra pela força, podendo usufruir dela o que for possível e ninguém poderá toma-la dos proprietários, tornando a propriedade incessável. O uso e a habitação também eram direitos dos proprietários. Não existia a posse sem a propriedade e nem a propriedade sem a posse, fazendo com que elas andassem juntas.
A religião doméstica, a família e o direito de propriedade eram as três coisas mais importantes na época. A religião doméstica estava ligada a um espaço territorial, tornando a propriedade em inalienável, garantindo, graças a religião, o direito de propriedade.
Já na Idade Média, em Roma, a divisão de terras era muito extensa e de domínio dos senhores feudais, dos quais disponibilizavam pedaços de terras para seus servos, para que habitem aquele lugar e produza o que for possível. Essas terras eram chamadas de feudos. Os servos constituíam a maior parte da população camponesa, eram obrigados a prestarem serviços à nobreza e a pagar-lhes diversos tributos em troca da permissão de uso da terra e de proteção militar.
A grande propriedade dividia-se em duas partes: uma de exclusividade do senhor feudal e a outra dividida entre os servos. Cada servo tinha a posse de seu lote de terra, não podendo abandoná-lo e nem ser expulso dele, devendo trabalhar na terra do senhor e entregar a maior parte da produção de seu lote. Apesar de usarem das terras, não tinham a propriedade delas e jamais os direitos de usufruto, apenas o de uso, vistos que tudo o que era produzido, era tomado pelos senhores feudais. O direito de propriedade era de inteiro poder do direito pessoal, ou seja, o Estado jamais interferia nas relações feudais.
Extinto a idade média, surge a idade moderna ou contemporânea, em que com a Revolução Francesa, foi criado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, transformando a propriedade em um direito natural do cidadão, tendo ainda um caráter individualista de propriedade. Porem, nessa era contemporânea, a configuração dependia exclusivamente do regime politico da região. Na URSS, por exemplo, a propriedade era direito natural do Estado, era propriedade usufrutuaria de bens de utilização direta, ou seja, os bens de produção eram socializados. Já nos países do ocidente, a propriedade era inteiramente individual, contidas as restrições voluntarias e legais para que seja possível o desempenho da função social da propriedade.
Apesar das inúmeras mudanças na propriedade e nos direitos reais de uso, usufruto e habitação, a propriedade hoje mantem sob um cunho individualista, buscando o Estado sempre adequá-la ao bem estar social.
Mudanças Ocorridas na Transição do Código de 1916 Para o Código de 2002
O Art. 674 do Código Civil 1916 nomeia os direitos reais: propriedade, enfiteuse, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, as rendas expressamente constituídas sobre imóveis, o penhor, a anticrese e a hipoteca. Nessa linha, o Código de 1916 entendia como os direitos reais, em sua enumeração legal, não serem taxativos no sentido de não permitir ao legislador criar novos direitos. Uma grande mudança que ocorreu com o novo Código de 2002 foi exatamente essa taxatividade, em que no Código de 1916 não existia, hoje, no Código de 2002, nos direitos reais, a enumeração já é taxativa, não permitindo a simples ampliação pela vontade das partes. O legislador, no antigo código, podia criar novos direitos, já no novo código, não.
No usufruto, o Código Civil de 1916 definia o então instituto, em seu Art. 713:
“Art. 713: O direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, enquanto temporariamente destacado da propriedade”.
Já no Código Civil de 2002, n ão há uma certa conceituação de usufruto como no Código de 1916, preferindo deixar subentendida essa ciência. Alguns poderes inerentes ao domínio são transferidos ao usufrutuário, que passa a ter o direito de uso e gozo sobre a coisa alheia. Assim explica o Art. 1390:
“Art. 1390: O usufruto pode recair em um ou mais bens, moveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades”.
Também o novo código teve mudanças na característica de inalienabilidade do usufruto, ou seja, no antigo código ele podia ser transferido por alienação ao dono da coisa, fazendo com que o Novo Código Civil de 2002 não reproduzisse esse efeito.
No uso, não há mudanças aparentes dentre os códigos de 1916 e 2002, mudando apenas o estilo de sua conceituação. Dos Arts. 742 ao 744, do Código Civil de 1916, para o Art. 1412, do Código Civil de 2002.
A habitação, por fim, também não teve mudanças significativas com o novo código, apenas o Art. 1611, parágrafo 2º, do Código Civil de 1916, cuja alteração foi dada pela Lei 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada, do qual foi revogado, devido ao principio da igualdade), do qual o dispositivo supracitado fora revogado por tal lei, do qual estava apenas firmando ao cônjuge sobrevivente desde que atendidas simultaneamente duas condições. Assim o referido dispositivo do diploma civil, assim revogado, se dispunha:
“Ao cônjuge sobrevivente, casado sob regime de comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar”.
Pode inferir que o direito real de habitação, uso e usufruto há muito já é instituto conhecido do direito brasileiro. Estes sofreram apenas algumas mudanças, umas significativas, outras quase sem percepção expressiva.
USUFRUTO
Usufruto é o direito real que se confere a alguém para retirar de coisa alheia, por certo tempo, os frutos e utilidades que lhe são próprios, desde que não lhe altere a substancia ou destino. No Código Civil de 2002, não há uma concepção conceitual clara a respeito do que é usufruto, levando apenas as suas características, finalidades, modo de extinção, entre outros.
Sua classificação se dá sobre o parâmetro de usufruto de gozo ou fruição sob coisa alheia, ou seja, o titular é quem recebe o direito, tendo a prerrogativa de usar ou gozar, utilizando-se dela de fora semelhante ao proprietário da coisa. Explica o jurista Lafayette:
“O proprietário no uso e gozo da coisa tem a faculdade ampla de altera-la, transforma-la, de destruir-lhe, enfim, a substancia. Mas o direito do usufrutuário não pode ser levado tão longe. Desde que o proprietário conserva direito à substancia do objeto, o usufrutuário é obrigado a respeita-lo: não há direito contra direito. Assim, o usufruto é um direito sobre a coisa alheia, salva a substancia da mesma coisa”.[4]
Por ser um direito real sobre coisa alheia, pressupõe-se então a convivência dos direitos do usufrutuário e do nu-proprietário. O que distingue os direitos de um e de outro são o proveito da coisa em beneficio do usufrutuário e a substancia que permanece com o nu-proprietário. Dispõe o Código Civil de 2002 os direitos do usufrutuário em seu Art. 1394:
“Art. 1394: O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos”.
Em outras palavras, o usufrutuário tem a posse direta do bem, sendo então o possuidor direto da coisa. Já o nu-proprietário é o possuidor indireto do bem. Sendo assim, ambos tem direitos a ações e proteções possessórias, por serem ambos possuidores.
O nu-proprietário, por sua vez, é explicado nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves:
“Além da posse indireta da coisa, tem o direito à substancia da coisa, a prerrogativa de dispor dela e a expectativa de recuperar a propriedade plena pelo fenômeno da consolidação, tendo em vista que o usufruto é sempre temporário; de outro lado, passam para as mãos do usufrutuário os direitos de uso e gozo, dos quais transitoriamente se torna titular”.[5]
Por referir precisamente dos poderes do usufrutuário, dos quais seriam em relação à coisa fruída: gozar temporariamente da coisa alheia, o usufrutuário, para exercer esse poder, deverá exercer um outro, do qual seria exigir ao nu-proprietário da coisa que esta seja entregue com o direito de usufruto. O usufrutuário pode também hipotecar a outro o seu usufruto, como assim dispõe os Arts. 1400 a 1409 do mesmo diploma legal. Ali, os artigos acima citados explicam os deveres do usufrutuário, como o dever de inventario, de prestar caução, consentir a intervenção do proprietário, reparações, encargos fiscais e defesa dos interesses do proprietário.
O usufruto tem duas finalidades distintas, sendo estas exclusivas às relações familiares. São elas a assistencial e a alimentar, normalmente advindas de um negócio tanto gratuito como oneroso. Ademais, esses negócios vem sempre de testamentos ou doações que tenham, de certa forma, a reserva de usufruto. O principal objetivo dessas finalidades, tanto a assistencial quanto a alimentar é dar ao usufrutuário o direito de uso e gozo da coisa testamentada ou doada, sendo tanto para assegurar-lhe dos meios assim advindos, quanto para prover sua subsistência.
As características do usufruto, além das já citadas, das quais são o direito de usar e fruir da coisa alheia e a sua não permissão de alteração da substancia da coisa ou do direito em si, são dividias em partes: é um direito real sobre a coisa alheia; caráter temporário; inalienável; divisível; e insuscetível de penhora.
É direito real sobre coisa alheia pois, nas palavras de Silvio Rodrigues:
“Recai diretamente sobre a coisa, não precisando seu titular, para exercer seu direito, de prestação positiva de quem quer que seja. Vem munido do direito de sequela, ou seja, da prerrogativa concedida ao usufrutuário de perseguir a coisa nas mãos de quem quer que injustamente a detenha, para usa-la e desfrutá-la como lhe compete. É um direito oponível erga omnes e sua defesa se faz através de ação real”.[6]
Essa característica difere de qualquer outra utilização de coisa alheia, como a locação e o comodato, por exemplo.
Tem caráter temporário, pois limita o usufruto à vida do usufrutuário; ao termo de sua duração; pela extinção da pessoa jurídica ou no decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer; pela cessação do motivo de que se origina; pela destruição da coisa; pela consolidação; por culpa do usufrutuário quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens; ou pelo não uso e fruição da coisa.
É inalienável, mas admite cessão a titulo oneroso ou gratuito (Art. 1410, IV, CC). A inalienabilidade não permite a penhora, que apenas incidirá sobre o proveito econômico que ele possa oferecer. Essa característica esta configurada nos fins do instituto, porque tem o dever de prover a subsistência do usufrutuário e de sua família.
É divisível, ou seja, o código permite a sua constituição em favor de duas ou mais pessoas, gerando assim o co-usufruto.
E, por fim, é insuscetível de penhora, ou seja, decorrente da inalienabilidade, o usufruto é impenhorável. Carlos Roberto Gonçalves explica melhor essa característica:
“O direito em si não pode ser penhorado, em execução movida por divida do usufrutuário, porque a penhora destina-se a promover a venda forçada do bem em hasta publica. Mas como o seu exercício pode ser cedido, é passível, em consequência, de ser penhorado. Nesse caso, o usufrutuário fica provisoriamente privado do direito de retirar da coisa os frutos que ela produz”.[7]
Como formas de constituição do usufruto, este pode se dar por meio de atos de vontade, usucapião e por determinação legal. Para bens imóveis, dispõe o Art. 1391 do Código Civil:
“Art. 1391: O usufruto de imóveis, quando não resulte de usucapião, constituir-se-á mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis”.
Para bens moveis, tem-se o Art. 1267 do mesmo diploma legal:
“Art. 1267: A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo Único: Subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já esta na posse da coisa, por ocasião do negocio jurídico”.
O usufruto constituído mediante atos de vontade ou atos jurídicos, é aquele conquistado por contratos ou por meio testamentário. Na primeira hipótese, a constituição pode ser tanto onerosa como gratuita, inter vivos ou causa mortis. Em geral surge de forma gratuita, por doação com reserva de usufruto, ou por doação de nu-propriedade para um beneficiário ou também por um usufruto a outro. A segunda e mais frequente hipótese, quando por testamento a pessoa proprietária deixa a outra o usufruto e a fruição da coisa.
Ademais, tem-se também a forma de constituição por meio da usucapião, podendo ser ordinária ou extraordinária. O usufrutuário tem o dever de cumprir as despesas ordinárias de conservação, conforme dispõe Art. 1403 do Código Civil, porém, não responde ao nu-proprietário pelas deteriorações normais de uso (Art. 1402, CC). As despesas extraordinárias, por sua vez, incumbem ao nu-proprietário, como rege o Art. 1404 do mesmo diploma legal.
Como ultima forma de constituição do usufruto, temos aquela por determinação legal. Essa estabelece em favor de certas pessoas, como o usufruto do cônjuge sobre os bens do outro cônjuge, quando tal direito lhe competir (Art. 1652, I, CC). Em outras palavras, essa forma de constituição de usufruto se da somente se previsto em lei, ou seja, por determinação em lei.
Assim como temos os meios de constituição do usufruto, temos também os meios de extinção do mesmo, assim regidos pelo Art. 1410 do Código Civil:
“Art. 1410: O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:
I – Pela renuncia ou morte do usufrutuário;
II – Pelo termo de sua duração;
III – Pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;
IV – Pela cessação do motivo de que se origina;
V – Pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos Arts. 1407, 1408, 2ª parte e 1409;
VI – Pela consolidação;
VII – Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de credito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no paragrafo único do Art. 1395;
VIII – Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (Arts. 1390 e 1399).
O inciso primeiro do Art. 1410 do código civil diz respeito ao modo de extinção do usufruto por meio da renuncia ou morte do usufrutuário. A renuncia exige, além da capacidade do usufrutuário de promove-la, a disponibilidade desse direito. Ela deve ser feita mediante escritura publica, de forma expressa ou em alguns casos tácita, para bens imóveis de valores superiores a trinta salários mínimos, como explica o Art. 108 do mesmo diploma legal. Por ser temporário e inalienável, explica o fato de o usufruto extinguir-se mediante morte do usufrutuário, aplicando-se ao usufruto vitalício e aquele constituído para durar por um certo período de tempo.
Quando o usufruto é constituído por duas ou mais pessoas, este se extinguirá para os que falecerem, subsistindo a parte dos remanescentes, salvo se estipulado o direito de acrescentar, quando o quinhão dos falecidos cabe aos sobreviventes até que faleça o ultimo usufrutuário, como rege o Art. 1411 da mesma base legal. Cumpre ressaltar sobre a proibição de violação da legitima dos herdeiros necessários, ou seja, se o usufruto for simultâneo e recair sobre a herança, o direito de aumentar é automático.
O termo de duração do usufruto também é um modo de extinção do mesmo. Este se estabelece mediante atos constitutivos, se o usufrutuário não vir a falecer antes. Por mais que o usufruto seja por prazo determinado, o mesmo inexiste na função sucessória.
É modo de extinção do usufruto quando a pessoa jurídica venha a extinguir-se. Para consolidar tal ato, o legislador determina que precisa-se da morte do usufrutuário e, também, do limite de duração do usufruto de trinta anos, para pessoas jurídicas. Nesse caso, o usufruto cessa-se antes da morte do usufrutuário, no caso em questão, por cessação da sociedade da pessoa jurídica.
Outro modo de extinção é a consolidação, onde a pessoa tem a junção do domínio e a do usufruto ao mesmo tempo. É quando o nu-proprietário adquire o usufruto ou quando o usufrutuário adquire a propriedade ou até mesmo quando um terceiro envolvido adquire a propriedade e o direito de usufruto também. É modo de extinção pois o usufruto não pode se dar decorrente de bem próprio.
Se o usufruto for adquirido mediante razão alheia, a partir de cessado seu caso, aquele se extingue. Este é o caso do inciso IV do mesmo diploma. Em outras palavras, o direito de usufruto continua até que não se realize um outro acontecimento futuro e incerto. Esse modo de extinção acontece também no direito de família, quando os pais ficam sob a proteção dos bens dos filhos até que estes atinjam a maioridade civil para adquiri-los.
A destruição da coisa também é um modo do Art. 1410, CC. Para isso, a coisa alheia precisa ser infungível, ou seja, perecendo o artefato, perece também o seu direito de tê-lo. Deve perecer a coisa em sua totalidade, pois se caso haja possibilidade de reaver parte dela, a mesma pode permanecer.
Por culpa do usufrutuário, quando este aliena o bem, deteriora ou deixa arruiná-lo, não o reparando para uma possível conservação ou quando no usufruto de títulos de credito, não da às importâncias recebidas a aplicação prevista no paragrafo único do Art. 1399, este vem a extinguir-se. Isso chama-se de abuso de fruição.
Por ultimo e mais comum, a prescrição também é um meio de o usufruto deixar de existir. Para isso, o usufrutuário deve deixar de usufruir da coisa alheia por um determinado lapso de tempos para que esta se leve à extinção. Esse lapso de tempo que é um contraditório, ou seja, para uns, diz-se trinta anos, para outros, quinze, para outros, dez. Porem, aplica-se o aludido no Art. 205 do Código Civil:
“Art. 205: A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
O Código Civil de 2002 não traz uma definição legal sobre o que é o usufruto, porém, este mesmo diploma foi meticuloso ao regulamentar tal instituto. Isso foi possível em decorrência de sua grande aplicabilidade, do qual se estende ao Direito de Família, Direito das Sucessões, Direito das Obrigações e também ao Direito das Coisas.
USO
O uso apresenta grandes semelhanças com o usufruto, e é por essa razão que o legislador manda que se aplique, quando couber, as regras do usufruto. O uso nada mais é do que o direito de servir-se da coisa alheia na medida em que suas necessidades próprias e se sua família vierem a colidir, porém, sem retirar-lhe as vantagens. Diferente do usufruto, que este retira da coisa todas as utilidades que dela podem resultar, inclusive as vantagens.
Nas palavras de Marco Aurélio Viana:
“O uso nada mais é do que um usufruto limitado. Destina-se a assegurar ao beneficiário a utilização imediata de coisa alheia, limitada à reduzir a um conceito único o direito de usufruto, uso e habitação. Optou, entretanto, o legislador pátrio por distingui-lo dos outros dois direitos reais mencionados”.[8]
O uso mantem as mesmas características do usufruto, sendo ele temporário e resultante do desmembramento da propriedade. Por outro lado, ele tem também suas características próprias, como a indivisibilidade, o uso não pode ser constituído por partes em uma mesma coisa. E é também incessível, ou seja, não é cedido nem pelo seu exercício.
O uso já não é mais tão praticado pela nossa legislação vigente. Um exemplo de uso seria um terreno em cemitério, do qual é classificado como uso, pois apesar de cada pessoa comprar um “pedaço de terra”, tal ato não gera uma escritura, assim o que se existe é uma autorização de uso.
O objeto do uso pode ser tanto bens moveis como imóveis. Quando recair sobre bens moveis, o uso não poderá ser nem fungível e nem consumível. Alguns autores admitem o uso de bens moveis consumíveis, explica Carlos Roberto Gonçalves:
“Alguns autores admitem a incidência do uso sobre bens moveis consumíveis, caracterizando o quase-uso, a exemplo do quase-usufruto. O usuário adquiriria a propriedade da coisa cujo uso importa consumo e restituiria coisa equivalente”.[9]
As formas de constituição e de extinção do uso se dão da mesma forma que pelo usufruto. Assim, pode ser aplicada a mesma regra do Art. 1410, CC tanto para o usufruto, quanto para o uso. Porem, a única exceção deste instituto é a extinção pelo não uso, do qual não se aplica.
HABITAÇÃO
Enfim a habitação, como conceito pratico, seria o direito que a pessoa tem de morar e residir em casa alheia. A habitação é em favor da pessoa e de sua família, não podendo ser cessível, ou seja, não é cedido nem pelo seu exercício.
Diria Carlos Roberto Gonçalves a respeito da habitação:
“O instituto em apreço assegura ao seu titular o direito de morar e residir na casa alheia. Tem, portanto, destinação especifica: servir de moradia ao beneficiário e sua família. Não podem aluga-la ou emprestá-la. Acentua-se, destarte, a inacessibilidade assim do direito quanto do seu exercício”.[10]
É um direito real e personalíssimo, ou seja, embora como o uso, também tenha advindo do usufruto, este instituto é ainda mais restrito que os demais. Outra característica é ser temporário, também como o usufruto e o uso, pois rege também as regras do Art. 1410 do Código Civil.
Seu objeto é o bem imóvel como exclusividade e o sujeito titular do direito deverá residir neste bem, ele ou com a sua família. Por ser personalíssimo, não pode entrega-lo a outra pessoa e nem emprestá-lo. Se o direito for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas poderá residir na casa, sem a obrigação de pagar aluguel aos demais titulares. Como rege o Art. 1415:
“Art. 1415: Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel à outra, ou às outras, mas não as pode inibir de exercerem, querendo, o direito, que também lhes compete, de habitá-la”.
Esta divisão de direito é feita de forma expressa. A pessoa titular do direito pode habitar a casa alheia sem que deva pagar aluguel aos demais titulares, porém, aos demais também tem o direito de habita-la, não podendo impedi-las de exercer seus direitos.
Na legislação vigente, a habitação esta regulamentada nos Arts. 1414 a 1416 do Código Civil, assim esta explicito o primeiro deles:
“Art. 1414: Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupa-la com sua família”.
Não se tem mais, na legislação brasileira, o direito de habitação permitida a alugar casa alheia. Também o direito de habitação não se extingue pelo não uso, porém, extingue-se por todos os demais meios previstos no Art. 1410 da mesma base legal.
O direito de habitação cabe muito ao direito sucessório, em que, em seu Art. 1831, dispõe:
“Art. 1831: Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
O que o artigo de lei quer dizer é que todos os herdeiros necessários tem o direito de habitar no imóvel destinado à residência familiar, desde que seja o único a inventariar. Ao viúvo ou viúva também é concedido o direito de habitação na herança. Mesmo que o cônjuge sobrevivente seja herdeiro ou legatário, não perde o direito de habitação.
AÇÕES DECORRENTES DO USUFRUTO, USO E HABITAÇÃO
O usufruto, o uso e a habitação são semelhantes como um todo, tanto na forma de constituição, de extinção, características, finalidades, etc., como também na parte processual. O sujeito que desejar buscar os fins processuais para resolver-se nas questões que envolvem tais institutos, pode valer-se de ação reivindicatória no exercício do direito de sequela contra o proprietário ou terceiro envolvido, dos quais estejam impedindo seu direito.
Se precisar provar da existência do direito de usufruto, uso ou habitação, a ação cabível para este caso seria a confessória, pois com efeito mandamental, possui finalidade de entregar a coisa ao autor ou aos seus acréscimos e frutos. Acontece nos casos de quando o proprietário nega o direito real ao interessado.
A ação cominatória também é valida nos casos dos sujeitos usufrutuários, usuários ou habitadores, para que obriguem ao proprietário a entregar a coisa, sob pena de multa diária. Essa ação, movida contra o proprietário, terá cunho reivindicatório e petitório. As medidas possessórias só serão possíveis se eles já estiverem alcançados a posse da coisa.
A duvida de qual instituto que o sujeito sob o domínio do direito da coisa estiver valendo-se é comum, devendo o titular, quando esta duvida vier a existir, utilizar-se de uma ação declaratória, para saber quem afinal alega o usufruto, o uso ou a habitação e deverá prova-los. Já o proprietário da coisa poderá promover uma ação contra o sujeito de direito de usufruto, uso ou habitação, nos casos de prejuízos ocasionados por dolo ou culpa. Poderá o proprietário também exigir a caução e requerer medidas cautelares para que se impeça a deterioração, perecimento ou perda da coisa.
Por fim, tem-se a ação negatória, da qual confere ao titular do direito para agir contra aquele que o ofendeu ou o turbou, aduzindo que também possui direito sobre a coisa. Este direito real é limitado e tal ação pode, inclusive, se voltar contra o nu-proprietário (possuidor indireto), nos casos em que este possuidor indireto é quem esteja obstando do direito real do sujeito usufrutuário, usuário ou habitador.
CONCLUSÃO
O direito real é um instituto do direito das coisas, no âmbito civil, cujo titular desse direito exerce total poder sobre a coisa. Dentro desses direitos reais, temos eles sobre coisas alheias, que é o caso da propriedade. E é na propriedade que encontramos os institutos estudados no presente artigo. São eles o uso, o usufruto e a habitação. O uso é o direito que o sujeito tem de usar de uma coisa e dela retirar o que for necessário para o seu sustento e de sua família. O usufruto, por sua vez, é onde o sujeito tem o direito de desfrutar de um bem alheio, por tempo determinado, sem ser o seu proprietário e sem retirar sua substancia. E na habitação, por fim, é quando o sujeito tem o direito de apenas residir num imóvel com sua família, sendo esse o instituto mais limitado dos demais acima citados.
Com o passar dos anos, mudanças aconteceram dentro do direito de propriedade. Na antiguidade, por exemplo, o direito de usufruto era pleno, assim como seu direito de uso e habitação. Todos da clã ou tribo ou família eram proprietários e, por essa razão, usufrutuários, usuários e também habitantes do mesmo pedaço de terra assim conquistado. Já na era medieval, esses direitos foram extintos para um determinado grupo, como os servos, fazendo valer-se apenas do direito de uso, ou seja, apenas usar o que for necessário para o seu sustento e de sua família. Passando-se dessa era para a era contemporânea, os direitos aqui estudados voltam a existir plenamente, fazendo reforçar-se o direito de propriedade e de sociedade pacifica e assim a cada dia que passa esses direitos vão criando força e se concretizando ainda mais.
Mudanças no Código Civil de 1916 para o 2002 também ocorreram, como no caso da taxatividade, onde no antigo código se entendia como os institutos não serem taxativos, ou seja, permitia o legislador a criar novos direitos. Já no novo e atual Código, surge a característica de taxatividade dos direitos reais, ou seja, o legislador não pode mais criar novos direitos.
As classificações de usufruto, uso e habitação estão divididas no que diz respeito ao gozo ou fruição da coisa alheia, ou seja, é o titular quem recebe o direito de usufruto; no uso da coisa alheia apenas em função de suas necessidades e de sua família; e no direito de morar e residir no bem imóvel alheio. Suas características estão também divididas, no que diz respeito ao usufruto, um direito real sobre a coisa alheia, de caráter temporário, é inalienável, divisível e insuscetível de penhora. Ao uso, como a indivisibilidade e inacessibilidade, ou seja, não é cedido nem pelo seu exercício. E à habitação, é um direito real, temporário e personalíssimo, ou seja, este instituto é ainda mais restrito que os demais.
As formas de constituição de usufruto, uso e habitação são idênticas, das quais são constituídas por meio de atos de vontade, usucapião e por determinação legal. já, as formas de extinção desses institutos são semelhantes, vistos que ambos estão regidos pelo Art. 1410, CC. A única diferença seria, no uso e na habitação, do qual o inciso VIII do artigo supracitado não se aplica, sendo aceito apenas pelo usufruto.
Assim, por serem semelhantes em todos seus aspectos, os institutos de usufruto, uso e habitação tem por meio judiciário os mesmos ditames. Sendo eles, a ação reivindicatória, ação confessória, ação cominatória e, por fim, a ação negatória. Essas ações dizem respeito ao casos que podem ocorrer e prejudicar o usufrutuário, o usuário ou o habitante que dispor do direito de tal ato.
O direito de habitação é muito visto no direito sucessório, na parte testamentaria, onde o de cujus deixa de herança para o herdeiro necessário, além da propriedade, o direito de habitação do mesmo. É por esse e vários outros motivos que esses institutos, criados no direito romano, chamados usus fructus, usus e habitatio, são tão importantes no direito e legislação.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARRUMA ALVIM NETO, José Manuel. Confronto entre Situação de Direito Real e de Direito Obrigacional. Prevalência da Primeira, Prévia e Legitimamente Constituída – Salvo Lei Expressa em Contrário. Parecer publicado na Revista de Direito Privado, vol. 1, janeiro/março de 2000. São Paulo: RT, 2000, págs. 103/106.
GONÇALVEZ, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das Coisas. v.5. 7ª ed. São Paulo: Saraiva 2012.
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das Coisas. v. 5, 28. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.
VIANA, Marco Aurélio S. Comentários ao Novo Código Civil, volume XVI: dos direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
BEVILAQUA, Clovis. Direito das Coisas. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. v. I e II.
PEREIRA, Lafayette Rodrigues. Direito das Coisas. Atualizada por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003.
WOLKMER, Antônio Carlos. Fundamentos de História do Direito. 4ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
[1]Direito das Coisas, V. I, p. 11.
[2]Direito das Coisas, cit., t. I, p. 25.
[3] ALVIM, Arruda. Confronto entre Situação de Direito Real e de Direito Obrigacional. Prevalência da Primeira, Prévia e Legitimamente Constituída – Salvo Lei Expressa em Contrário. Parecer publicado na Revista de Direito Privado, vol. 1, janeiro/março de 2000. São Paulo: RT, 2000, págs. 103/106.
[4]Direito das Coisas, t. I, p. 256-258.
[5]Direito das Coisas, t. VI, p. 479.
[6]Direito Civil, cit., v. 5, p. 297.
[7]Direito das Coisas, t. VI, p. 481-482.
[8]Comentários Ao Novo Código Civil, v. XVI, p. 675-676.
[9]Direito das Coisas, t. VII, p. 508.
[10]Direito das Coisas, t. VIII, p. 510.
- Se logue para poder enviar comentários
- 17441 leituras
-